
|

|
| Vias | Rodoviária | Centro | Asa Norte | Asa Sul | Cidades | Metrô-DF | Trem | Plano Piloto | Clima | História | Livros | Links | Help | brazilias | Home | |
|
• Alco RSD8 Fepasa - 29 Fev. 2016 • G12 200 Acesita - 22 Fev. 2016 • “Híbrida” GE244 RVPSC - 21 Fev. 2016 |
• Vagão tanque TCQ Esso - 13 Out. 2015 • Escalímetro N / HO pronto para imprimir - 12 Out. 2015 • Carro n° 115 CPEF / ABPF - 9 Out. 2015 |
Referências[DB3:]15 jan. 1959, quinta-feira Engº Bernardo Sayão — Entre as localidades de Imperatriz e Guamá, no Pará, a 30 km da fronteira do Maranhão, às 13:00 horas, o engº Bernardo Sayão Carvalho Araújo, vice-governador de Goiás e diretor-executivo da Novacap, é atingido por uma árvore gigantesca, que alcança em cheio seu jipe de inspeção. No momento, o engº Sayão inspecionava o lugar em que se ultimavam as obras de um campo em que deverá pousar, a 1º de fevereiro, o avião presidencial para a cerimônia do encontro das duas pistas da rodovia Belém-Brasília. Transportado em helicóptero para Açailândia, o engenheiro falece antes mesmo de poder ser socorrido pelos médicos. Bernardo Sayão planejara o primeiro traçado para a ligação de Anápolis a Belém do Pará, no ano 1949, ocasião em que o escritor norte-americano John dos Passos lhe dedicou longa reportagem na revista Life. Foi o primeiro diretor da Colônia Agrícola de Ceres, em Goiás, dando grande impulso às obras de colonização desse Estado, de que viria a ser eleito vice-governador. Na Novacap, Bernardo Sayão dedicou-se de corpo e alma, sem vacilações, ao trabalho da constução de Brasília e de suas vias de acesso, participando ininterruptamente das obras de abertura da estrada de rodagem Brasília - Belém do Pará, obras em que veio a ser vítima do acidente fatal.
|
Bernardo Sayão
|
|
|
Artigo de Antonio Callado, publicado na revista Visão,
São Paulo, 6 de fevereiro de 1959 [cf. DB3:]
Quem chegasse àquela clareira em plena mata amazônica às duas e meia da tarde do dia 15 de janeiro de 1959, imaginaria ter chegado ao local de rodagem de uma fita de cinema. Provavelmente sobre as Bandeiras. (...) Esse chefe de Bandeira sentou-se um instante a uma mesa de campanha, examinando um mapa, à beira do picadão rasgado a fogo e bulldozer [i]. Lá no topo de uma árvore de 40 metros de altura, abalada pelos estradeiros, um galho estalou imperceptivelmente. Pesado, sua extremidade ramalhuda agravou logo o esgarçamento das fibras da madeira, da casca, estalou um pouco mais alto no silêncio da floresta ainda mal desperta do meio-dia bruto — e caiu.
(...)
Todo o grupo que cercava Bernardo Sayão naquela floresta do Pará, a uns 30 quilômetros da cidade maranhense de Imperatriz, sentiu um segundo depois do choque físico da sua morte o choque espiritual da tragédia: a menos de duas semanas do dia em que se encontrariam os tratores vindos do Norte e do Sul naquela estrada Belém-Brasília, entrava em agonia o grande arquiteto da estrada.
Lá no céu tranqüilo passou o avião Cessna do patrulhamento, a ver se tudo estava bem em terra. Os homens, num desabafo irreprimível, gesticularam, gritaram, a dizer ao Cessna que não, que nada ia bem em terra, que o chefe estava derrubado, estendido no chão. Morrendo.
Mas estavam agindo como crianças, pensaram logo depois, como índios a gritar para um avião. Precisavam dar um aviso ao Cessna, um aviso de agonia. Juntaram todas as camisas e camisetas brancas, com as quais cobriram dois paus trançados. Lá de cima o piloto viu deitada na floresta verde a cruz branca.
Veio um helicóptero para levar Bernando Sayão a Belém do Pará. Mas às 7h30 da noite morria o Bandeirante.
A notícia correu como correm notícias importantes nas matas do Xingu. Antes mesmo de o telégrafo começar a comunicar a morte do Bandeirante, a notícia parecia correr como correm as que circulam nos aboios, nos assobios, no botucajé dos índios: notícias comunicadas pela vibração do solo e do vento.
Em Brasília, onde residia agora Sayão, tudo parecia ter parado pela primeira vez. O que nem o domingo conseguiu, naquela atmosfera de far-west [i] que os feriados só conseguem acentuar, a morte de Sayão conseguiu: um silêncio, uma dor pública. Cruzes de crepe começaram a surgir nas janelas da Cidade Livre, nas portas das casas, nas saletas das pensões. (...)
A Rádio Nacional de Brasília e o serviço de alto-falantes que inferna com permanente barulho todas as casas da Cidade Livre pareciam os arautos de uma monarquia comunicando a morte do Rei. E as casas de comércio se foram fechando, os barracos dos candangos silenciando, o crepe e o fumo barrando de preto até o radiador dos caminhões e o espelho retrovisor dos jipes.
Foi às 8 horas da noite do dia 16 que aterrisou no aeroporto de Brasília o avião que trazia o corpo de Bernardo Sayão. Era enorme a multidão que esperava o avião fúnebre desde as 2 horas da tarde naquela sexta-feira que um São Bernardo leigo transformara no primeiro dia santo de Brasília. Levaram Sayão para a capela Dom Bosco, e lá foi velado a noite inteira. Uns 400 carros, jipes e caminhões, se haviam deslocado atrás do caixão. No sábado foi a romaria ao cemitério-virgem de Brasília - tão virgem, que durante toda a noite da véspera uma ponta de estrada de 2 quilômetros de comprido e seis metros de largo fôra construída para levar e enterrar ali Bernardo Sayão. Enxugando a cara dura e máscula, mas molhada de lágrimas, um candango disse: «Quando o doutor Sayão marcou este cemitério, perguntou a nós quem é que ia inaugurar ele. Ele é que ninguém havera de dizer que ia.»
Em verdade, não o inaugurou sozinho. Se milhares e milhares de corações ficaram partidos com a morte de Sayão, um parou definitivamente de bater: o de Benedito Segundo, o motorista do jipe de Sayão. Quando soube da morte do chefe, nada disse. Limitou-se a morrer. Foi enterrado na mesma ocasião. Se Sayão foi o primeiro morto a repousar no cemitério de Brasília, Benedito foi o segundo. Deixou, com sua morte tão tocante, o jogo de palavras mais sério e terno que já se fez no Brasil.
(...)
Essa emoção de candangos e cassacos, de diretores da Novacap e de tabaréus, do povinho da Cidade Livre e do próprio Presidente da República, se irradiou do centro do país para suas costas e suas fronteiras. (...)
Rio da Almas
Carioca, tijucano, Bernardo Sayão Carvalho Araújo nasceu a 18 de junho de 1901. (...)
(...) «Ele fugia das aula spara escalar o morro das Duas Pedras, de 530 metros de altura, que formava o fundo do colégio de Nova Friburgo».
(...) Quando foi estudar Agronomia em Piracicaba, aquela sua inquietação de cigano, de alpinista e de desportista já começava a procurar os leitos em que se faria rio caudaloso: Sayão começou a fundar fazendas e fazer estradas. (...)
Mas sentia uma santa impaciência com as coisas da cidade, de qualquer cidade. Era um brasileiro voltado para Oeste o tempo todo. E o Brasil pós-revolucionário de 1930 começou a ressoar com o brado — ainda sobretudo retórico — da Marcha para Oeste. Mas aos ouvidos de Sayão o brado não soava como frase de discurso, ou como programa a ser amadurecido em decênios. Significava facão de mato, picada na selva e estradas, fezendas e vilas.
Sayão foi recomendado ao presidente Getúlio Vargas por Luís Simões Lopes. Na primeira visita que fez a Vargas (já então Sayão tinha perdido, em 1936, sua primeira esposa), ele próprio lavou um terno branco, que não teve tempo de mandar passar, e vestiu assim mesmo. Seu cunhado Motta Maia, que o acompanhava, ficou lívido. Assim não se podia aparecer ao então ditador dos brasileiros. Passaram, antes de ir ao Catete, por uma das lojas do centro, para vestir Sayão.
O que abre o período grandioso da vida de Bernardo Sayão é sua nomeação para dirigir a Cang — Colônia Agrícola Nacional de Goiás — do Ministério da Agricultura. O plano das Colônias Agrícolas era fundar essas grandes fazendas a fim de que elas atuassem como um ímã sobre as chamadas populações pseudonômades do interior — na realidade gente sem nenhum peso econômico, sem nenhuma oportunidade, e que flutua pelo País numa vida de felá.
(...)
Mas antes Sayão foi inspecionar o sítio em que fundaria a sua Colônia Agrícola. Era à beira do rio das Almas, em plena mata, sem uma picada em torno. O rio, caudaloso ali, não tinha sombra de ponte. Sayão (que agora, quarentão, se fizera remador do Botafogo e ganhava regatas ao lado e contra moços de vinte anos) tirou a roupa e atravessou a nado o rio das Almas. O rio estava grosso. Um companheiro se debateu, afogou-se e todos os esforços de Sayão e do resto do grupo foram baldados. Ali ficou a primeira vítima, enquanto os demais inspecionavam a futura Cang, futura cidade de Ceres, que hoje tem mais de 40 mil habitantes. Naquele momento não havia nada, nada. Havia um cadáver no fundo do rio e um deserto verde na frente do Bandeirante. Como em tantas partes do Brasil, as frases do primeiro cronista podiam ser repetidas ali: a terra era boa e em se plantando dar-se-ia nela tudo. Mas para que?, perguntava a si mesmo Sayão. Para vender a quem? Para transportar por que estrada? Ele tinha verbas para erguer uma linda casa para si mesmo, diretor, e para seus auxliares, para fazer um curralzinho modelo e plantar hortas lindas.
Mas não ia fazer isto, não. Ia fazer uma estrada dali para Anápolis, o grande centro econômico de Goiás e do Brasil central. Na cabeça de Sayão já se fazia a alquimia de Cang para Ceres, da Colônia para a cidade.
A energia concentrada em Bernardo Sayão acabava de encontrar a sua tarefa.
Colônia Agrícola
Com a construção da rodovia Anápolis-Ceres e o progresso da Colônia Agrícola, o nome de Bernardo Sayão começou a criar fama. Um jornalista brasileiro, Hernane Tavares de Sá, foi ao encontro de Sayão, em Goiás, em 1947. Escreveu sobre ele e levou seu nome até as colunas de Time [i]. A revista ficou tão interessada no pioneer a florescer em pleno século vinte, que algum tempo depois despachou ao encontro de Sayão John dos Passos. "Dos" escreveu sobre o Bandeirante uma história que Life publicou em sua folha de rosto.
Este repórter encontrou Sayão pela primeira vez em Goiânia, em 1949, durante a Conferência sobre Imigração que lá se realizou. Deixou a Conferência para ir visitar Ceres com seu diretor, numa viagem, aliás, noturna e memorável. (...) Mas chegamos afinal ao fim da jornada, passamos por uma ponte que pareceu afundar um pouco sob o carro (...).
No pouco tempo que passei em Ceres, tive, com a obra de Sayão, uma das impressões maiores de minha vida, e, ao mesmo tempo, de lá saí com a noção de que deixava Sayão lutando pela sua cidade como aquele Gulliver que acordou em Lilliput todo amarrado a fio de linha, barbante e correntinhas pelos anões da ilha. Sayão, natureza impetuosa e máscula, jamais cumpriria aquele programinha mesquinho da Cang. Empregava suas verbas como criador de vida e não como funcionário público a contar o tempo que falta para a aposentadoria. Ele me dizia:
«Estou cheio de processos administrativos. Quando o Ministério me manda um fiscal, eu vou logo dizendo: Olhe, não fiz casa não, fiz estrada, não estou fazendo estábulos suíços não, estou construindo a ponte.»
«E o fiscal, que diz?»
«O fiscal em geral compreende muito bem», respondeu Sayão. «Concorda comigo. Mas balança a cabeça e diz que tem de fazer o relatório».
O relatório, por sua vez, ia às mãos de chefes, subchefes e aspirantes a chefes que, em geral, quando o conheciam, não podiam deixar de gostar de Sayão, mas que tinham de encaminhar o relatório, e dar parecer, e perguntar onde estava a casa e onde estava o estábulo.
«Aliás», continuava Sayão, já sorrindo de novo, «estou também com as companhias de petróleo no meu encalço. Por causa da ponte». E apontou com o beiço a ponte que tínhamos atravessado na véspera.
Só então vi como ainda estava longe de ficar pronta a ponte de concreto, em que Sayão no momento enterrava as verbas ministeriais. Em serviço estava uma ponte de tambores vazios de gasolina, solidamente amarrados uns aos outros, e à margem, por arame, e sobre os quais se estendiam, também amarradas, tábuas grossas. Era uma ponte perfeita, flexível, pela qual passavam carros, caminhões, boiadas. Mas as companhias reclamavam os tambores, que Sayão só poderia restituir quando terminasse a outra ponte, a de concreto.
Várias vezes, depois da minha visita a Ceres, Sayão me procurou quando vinha ao Rio e sempre me deixava a mesma impressão dualística: falava na sua vida admirável em Ceres, e no muito que realizava, e falava na rede, na trama de mesquinhos processos que os liliputianos lhe moviam.
Era um Rei em Ceres, era Juiz e Delegado. Aliás, o homem que na cidade andava de qualquer maneira, sempre atrapalhado pela gravata, era elegante no mato, com seu cinturão de couro, suas botas, seu blusão cáqui. Passava entre o respeito geral dos capiaus e, durante nossa visita, foi detido por um deles para uma conversa que a mim me assombrou mas que para ele era torina:
«Minha mulher, doutor Sayão, anda de dengue com aquele carpinteiro de Rialma. Se ele aparecer por aqui arrastando a asa, eu meto a faca nele e nela.»
E Sayão:
«Olha aqui, eu vou falar com a sua mulher. Vou dar uns conselhos a ela. Mas se você puxar faca para alguém, vai daqui preso para Anápolis. Eu mesmo levo.»
O homem saiu de cabeça baixa, rodando o chapéu na mão, curtindo com mais ânimo sua dor-de-cotovelo.
Era esse homem excepcional que perdia às vezes a disposição de trabalhar em Ceres, de se desdobrar de tal maneira, para, a cada vez que chegava ao Rio, se ver tão cercado pela fúria fria dos rond de cuir [i] despeitados. Quando me vinha ver, nessas ocasiões, eu ficava verdadeiramente assombrado com a capacidade burocrática que tem este país de atrapalhar os que realizam algo no serviço público. Mais de uma vez o Correio da Manhã escreveu em defesa de Sayão; escreveu, aliás, um tanto espantado de precisar defender aquele homem e aquela obra. E defendê-lo como se Sayão desviasse verbas, como se estivesse querendo enriquecer assim. Nenhum inquérito contra Sayão apurou coisa alguma de sério — e o homem que morreu em 15 de janeiro morreu pobre Nunca teve tempo de pensar na sua estabilidade financeira. Como fazendeiro, ou empregando-se numa empresa agrícola privada, Sayão poderia ter fundado em império particular. Primeiro diretor da Novacap a se mudar para Brasília, Sayão, que para isto vendeu sua casa em Goiânia, em Brasília morava ainda em casa de madeira.
Brasília-Belém
Tão desgostoso ficou Sayão, que um dia abandonou a menina dos seus olhos, Ceres. Veio para uma fazenda sua, em Miguel Pereira, no Estado do Rio, e pôs-se a explorar uma pedreira. Mas à moda Sayão: ele próprio quebrava a pedra, carregava o caminhão e ia fazer entrega aos fregueses. Nas horas vagas abria pequenas estradas, ligando Miguel Pereira a Pati de Alferes e a Governador Portela. Era como um poeta épico a fazer trovas para encher o tempo. Em 1953, num caminhão seu, se mudou com a família para Belo Horizonte, trabalhando na abertura de estradas. Mas durante os três anos, mais ou menos, em que esteve longe de Goiás, Sayão não tinha sido esquecido:
«Onde está o doutor Sayão, de Ceres?», perguntavam as pessoas. «Que fim levou?» E uma comissão de goianos foi a Belo Horizonte para candidatar Sayão à vice-governança do Estado.
Sayão, apolítico, inocente da ambição desse mando oficial, deve ter tomado um grande susto. Mas foi a Goiás, e a recepção que eve foi apoteótica. Em Ceres, então, sua filha cabocla, sua menina sertaneja, a recepção foi a do retorno de um pai. Sua votação foi tal que, tendo havido necessidade de eleições suplementares para se definir a eleição do governador, Sayão já obtivera, mesmo que não contasse com voto algum nas urnas impugnadas, a vitória para vice.
O sistema rodoviário do Estado de Goiás, Dergo, está sob a supervisão do vice-governador — o que provavelmente explica por que Sayão concordou em ser vice-governador. Lançou-se logo à Goiânia-Anápolis, ora em adiantada fase de pavimentação.
Finalmente, com a criação da Novacap, foi convidado para ser um dos diretores. Aceitou, com a condição de ficar no trabalho estradeiro. Superintendeu a Anápolis-Brasília, que em um ano entregava ao tráfego, toda asfaltada, com 8 pontes. (...)
Mas seu sonho, o sonho de que tanto me falou em Ceres, era a Transbrasiliana. E a Brasília-Belém era a concretização do sonho. Sayão queria deitar na mata sua imensa coluna de asfalto rematada pelo capitel amazônico. A menos de 15 dias de ver completado o principal da sua obra, vingava-se a floresta violada.
Brasil da aventura
(...) Por que essa emoção nacional com a morte de Sayão?
Creio que é porque (para usar como balizas dois termos de Gilberto Freyre) o Brasil se encontra perigosamente colocado entre a Aventura e a Rotina. Cedo demais para tal dilema. Novo, gigantesco, caminhando para um lugar entre as potências, o Brasil devia estar muito embriagado ainda de Aventura para já pender demais para a Rotina. Mas paira sobre esta nação jovem um rumor, escapado às conversas dos brasileiros, todo feito de «qüinqüênios», «licenças-prêmios», «abonos», «letras», «previdência», toda uma terminologia cara a nações onde a predominância de velhos e a maior importância do passado sobre o futuro criam o sonho da sinecura, da tisana, do chinelo. Da segurança sem horizonte nem audácia.
Bernardo Sayão foi o próprio símbolo da Aventura. Conseguiu saturar de Aventura até o Ministério do Largo da Misericórdia. Dava um sobressalto de Aventura em quem o ouvia pela primeira vez, explicando, doutrinando, empurrando suas estradas para cima de todos. Ele é o modelo a desafiar e enfurecer o Brasil-Rotina, e que o Brasil-Aventura tem de destruir.
Sayão não era homem de falar mal de ninguém nem de coisa alguma. Mas a última carta que escreveu e que endereçou à sua irmã Dulce Castro Menezes acaba assim:
«A luta por vezes é ingrata mas é fecunda, porque já estamos vendo a nova cidade que surge. Não poderemos ir ao Rio neste fim de ano. Eu estou com um encargo monstro. Tenho cerca de cem quilômetros de picadões e caminhos de serviço para abrir a fim de ser possível, antes de 31 de janeiro próximo, unir a penetração primária da estrada Brasília-Belém. Ando agora bem equipado com helicóptero e avião-correia de grde. capacidade pª toda semana, mais 54 machinas que estão desembarcando em Santos dando um trabalho incrível pª vencer as burrocracias emperradas do nosso país, mas rezo sempre pª q. Deus nos ajude nesta arrancada dura.»
Vejam o rolar desses rr na boca de quem tanto sofreu dessas burrocracias [i]. Pois são o R da Rotina, isto é, da única possível perdição deste país. Contra ele, é preciso que o Brasil da Aventura produza outros Bernardo Sayão.
Bernardo Sayão
Vida e morte do Bandeirante | Primeira missa
Marcos históricos de Brasília
O Plano Piloto de Lúcio Costa |
A escolha do Plano Piloto |
O lago de Glaziou
A origem do Catetinho |
Vida e morte de Bernardo Sayão
O massacre da Pacheco Fernandes
A logística da mudança |
Os trens experimentais |
A chegada do trem
A Pedra Fundamental |
Missão Cruls |
Relatório Cruls
Carta de Formosa |
Emenda Lauro Müller
A idéia mudancista |
Documentação
Brasília e a ideia de interiorização da capital
Varadouro |
Hipólito |
Bonifácio |
Independência |
Vasconcelos |
Império |
Varnhagen
República |
Cruls |
Café-com-leite |
Marcha para oeste |
Constitucionalismo |
Mineiros |
Goianos
CC |
A origem da “história” |
Ferrovias para o Planalto Central
Ferrovias• Estação de Cachoeiro de Itapemirim | Pátio ferroviário (1994) - 28 Fev. 2016 • Caboose, vagões de amônia e locomotivas da SR7 em Alagoinhas (1991) - 25 Fev. 2016 • Locomotivas U23C modificadas para U23CA e U23CE (Numeração e variações) - 17 Fev. 2016 • A chegada da ponta dos trilhos a Brasília (1967) - 4 Fev. 2016 • Livro “Memória histórica da EFCB” - 7 Jan. 2016 • G8 4066 FCA no trem turístico Ouro Preto - Mariana (Girador | Percurso) - 26 Dez. 2015 • Fontes e fotos sobre a locomotiva GMDH1 - 18 Dez. 2015 • Locomotivas Alco RS no Brasil - 11 Dez. 2015 • Pátios do Subsistema Ferroviário Federal (2015) - 6 Dez. 2015 |
Ferreofotos• Alco RSD8 Fepasa - 29 Fev. 2016 • G12 200 Acesita - 22 Fev. 2016 • “Híbrida” GE244 RVPSC - 21 Fev. 2016 • U23C modernizadas C30-7MP - 17 Fev. 2016 • C36ME MRS | em BH | Ferronorte - 14 Fev. 2016 • Carregamento de blocos de granito na SR6 RFFSA (1994) - 7 Fev. 2016 • G12 4103-6N SR6 RFFSA - 6 Fev. 2016 • Toshiba nº 14 DNPVN em Rio Grande - 25 Jan. 2016 • Encarrilamento dos trens do Metrô de Salvador (2010) - 14 Nov. 2015 • Incêndio de vagões tanque em Mogi Mirim (1991) - 9 Nov. 2015 • Trem Húngaro nas oficinas RFFSA Porto Alegre (~1976) - 21 Out. 2015 |
Ferreoclipping• Passagens e calendário do trem turístico Ouro Preto - Mariana | Percurso - 20 Dez. 2015 • Passagens e descontos do Trem do Corcovado | Onde comprar - 12 Dez. 2015 • Estação Pirajá completa a Linha 1 do Metrô de Salvador - 28 Nov. 2015 • EF Campos do Jordão | Horários | Hospedagem - 15 Jul. 2015 |
Ferreomodelismo• Vagão tanque TCQ Esso - 13 Out. 2015 • Escalímetro N / HO pronto para imprimir - 12 Out. 2015 • Carro n° 115 CPEF / ABPF - 9 Out. 2015 • GMDH-1 impressa em 3D - 8 Jun. 2015 • Decais para G12 e C22-7i MRN - 7 Jun. 2015 • Cabine de sinalização em estireno - 19 Dez. 2014 • Cabine de sinalização em palito de fósforo - 17 Dez. 2014 • O vagão Frima Frateschi de 1970 - 3 Jun. 2014 • Decais Trem Rio Doce | Decais Trem Vitória-Belo Horizonte - 28 Jan. 2014 • As locomotivas Alco FA1 e o lançamento Frateschi (1989) na RBF - 21 Out. 2013 • A maquete do Trem turístico Ouro Preto - Mariana (Trem da Vale) - 12 Out. 2013 |
|
|
• Passagens e calendário do trem turístico Ouro Preto - Mariana | Percurso - 20 Dez. 2015 • Passagens e descontos do Trem do Corcovado | Onde comprar - 12 Dez. 2015 • EF Campos do Jordão | Horários | Hospedagem - 15 Jul. 2015 |
• Estação de Cachoeiro de Itapemirim | Pátio ferroviário (1994) - 28 Fev. 2016 • Caboose, vagões de amônia e locomotivas da SR7 em Alagoinhas (1991) - 25 Fev. 2016 • U23C modificadas para U23CA e U23CE (Numeração e variações) - 17 Fev. 2016 |
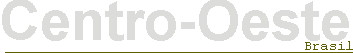
|
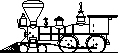
|
| Ferrovias | Mapas | Estações | Locomotivas | Diesel | Vapor | Elétricas | Carros | Vagões | Trilhos Urbanos | Turismo | Ferreomodelismo | Maquetes ferroviárias | História do hobby | Iniciantes | Ferreosfera | Livros | Documentação | Links | Atualizações | Byteria | Mboabas | Brasília | Home | |